A maior folha verde que temos neste país é com certeza a folha da bardana. Uma menina podia usá-la como avental; se a pusesse na cabeça quando chovia, faria de guarda-chuva — é tão grande como isso. Nenhuma bardana cresce sozinha; não, onde há uma, há sempre muitas outras. São um lindo espectáculo — e todo esse esplendor costumava ser a comida dos caracóis. Há um género especial de caracóis que vive nas folhas, uma espécie de caracol que os ricos costumavam cozinhar e comer. Murmuravam «Delicioso!» quando os comiam. E foi por isso que se começou a plantar bardanas.
Ora, havia uma velha mansão onde há muito tempo que se tinha deixado de comer caracóis. Os caracóis estavam mesmo quase extintos, mas não as bardanas, que cresciam e se multiplicavam. Espalhavam-se pelos caminhos e pelos canteiros de flores até não se ter mão nelas: o jardim era uma autêntica floresta de bardanas. Aqui e ali, havia uma macieira ou uma ameixieira; se não fosse isso, nem se percebia que tinha havido ali um jardim. Havia bardanas por todo o lado — e entre elas viviam os dois únicos sobreviventes dos caracóis, ambos muitíssimo velhos.
Eles próprios não sabiam que idade tinham, mas lembravam-se muito bem que, em tempos, tinha havido ali muitos mais, que a família tinha vindo do estrangeiro e que tinha sido especialmente para ela que a floresta de bardanas fora plantada. Nunca tinham saído dali, embora soubessem que havia uma outra coisa no Mundo chamada mansão. Lá, era onde os cozinhavam, era onde eles ficavam pretos e onde eram depois postos numa travessa de prata; mas o que acontecia depois ninguém sabia. Quanto a isso, não imaginavam o que se sentia ao ser cozinhado e posto numa travessa de prata, mas parecia que era muito interessante e, com certeza, muito fino. O escaravelho, o sapo e a minhoca foram interrogados sobre o assunto, mas nenhum deles tinha sido cozinhado ou colocado numa travessa de prata.
Os velhos caracóis brancos eram os aristocratas daquele mundo — disso não tinham a menor dúvida. A floresta existia só para eles, tal como a antiga mansão e a sua travessa de prata.
Passavam os dias numa felicidade tranquila e isolada e, como não tinham filhos, adoptaram um pequeno caracol vulgar, que criaram como se fosse deles. O pequeno não cresceu, porque não passava de um caracol vulgar. No entanto, os velhotes, especialmente a mãe-caracol, achavam sempre que ele tinha crescido um bocadinho desde o dia anterior. E quando o pai-caracol parecia não ver a diferença, ela pedia-lhe que apalpasse a pequena casca. E ele lá apalpava e concordava que ela tinha razão.
Um dia caiu uma grande chuvada.
— Ouve o tum-tum-tum nas folhas da bardana! — exclamou o pai-caracol.
— É verdade, e olha que alguns pingos estão a passar — respondeu a mãe-caracol. — Olha, escorrem pelos caules. Meu Deus, vai ficar tudo molhado aqui em baixo! Ainda bem que temos as nossas belas casas, uma para cada um e outra para o nosso pequeno! Realmente, devemos ser os animais mais favorecidos! Vê-se bem que somos os príncipes deste mundo. Cada um de nós tem uma casa sua assim que nasce, além de uma floresta inteira plantada para nós. Às vezes penso onde é que ela acabará e o que haverá depois dela...
— Nada! — respondeu o pai-caracol. Ninguém pode viver melhor em outro lugar e não estou interessado em ir mais longe.
— Ah, mas eu estou! — continuou a mãe-caracol. — Gostaria mesmo de ir até à mansão e de ser cozinhada, seja lá isso o que for, e colocada na travessa de prata. Todos os nossos antepassados passaram por isso, o que mostra que deve ser qualquer coisa de especial.
— A mansão é bem capaz de já se ter desmoronado — disse o pai-caracol. — Ou de estar coberta por bardanas e as pessoas nem poderem sair de lá. Seja como for, não precisas de estar com tanta pressa. Andas sempre numa lufa-lufa, e agora o pequeno está a ficar como tu! Em três dias quase chegou ao cimo daquele caule; fico tonto só de o ver rastejar daquela maneira!
— Não estejas sempre a pôr defeitos na criança — disse a mãe-caracol. — Ele rasteja com tanto cuidado! Tenho a certeza de que há-de dar-nos grandes alegrias. E, afinal, não é ele a nossa razão de viver? Olha, já pensaste onde havemos de lhe arranjar uma noiva? Não achas que por aí, nalgum sítio desta floresta de bardanas, pode haver alguém da nossa espécie?
— Bem, acho que há muitas lesmas e coisas parecidas, dessas que andam por aí sem casa própria — respondeu o velho caracol. — Mas isso para nós seria descer, apesar de elas terem muitas peneiras. No entanto, podemos encarregar as formigas de procurar. Andam sempre numa azáfama, para um lado e para o outro; como se tivessem muito que fazer; podem muito bem saber de uma esposa para o nosso caracolzinho.
— Ah, sim — disseram as formigas —, conhecemos a noiva mais linda; mas é capaz de ser difícil, porque é uma rainha.
— Isso não tem qualquer importância! — exclamou o velho caracol. — E tem casa?
— Tem um palácio! — retorquiram as formigas. — Um magnífico palácio de formigas com setecentos corredores.
— Obrigada! — disse a mãe-caracol. — O nosso filho não vai para um formigueiro! Se é o melhor que podem arranjar, vamos encarregar os mosquitos brancos do assunto; eles voam até muito longe, com chuva ou com sol, e conhecem todos os cantos da floresta.
— Sim, sabemos de uma esposa para ele — responderam os mosquitos. — A uns cem passos de homem daqui, numa groselheira-brava, vive uma pequena caracoleta com casa. Vive sozinha, e está em muito boa idade de casar. E só a cem passos de homem daqui.
— Bem — disse o velho casal —, ela que venha cá ter com ele. Ele é dono de uma floresta inteira e ela só tem uma groselheira!
Então, os mosquitos foram buscar a jovem caracoleta. Levaram oito dias a fazer a viagem, mas isso não desagradou aos pais; mostrava que ela também pertencia a uma boa família de caracóis.
E chegou o dia do casamento. Seis pirilampos fizeram o melhor que podiam para fornecer a iluminação, mas, à parte isso, foi um acontecimento bastante pacato, porque os velhos caracóis não gostavam muito de festas e paródias. A mãe-caracol fez um discurso encantador, porque o pai-caracol estava demasiado comovido para falar. E depois entregaram toda a floresta ao jovem casal, afirmando, como sempre, que aquele era o melhor lugar do Mundo e que, se o jovem par vivesse uma vida honesta e respeitável e tivesse muitos filhos, ainda podiam um dia ir à mansão e ser «cozinhados» (fosse qual fosse o significado de tal coisa...) e colocados numa travessa de prata.
Depois do discurso, os velhos caracóis meteram-se em casa e não tornaram a sair. Adormeceram. Os dois jovens passaram a reinar na floresta e tiveram muitos filhos, mas nunca foram cozinhados nem postos numa travessa de prata, de maneira que chegaram à conclusão de que a mansão tinha ruído e que as pessoas tinham morrido todas. E, como não havia ninguém para os contradizer, devia ser verdade. E a chuva batia nas folhas das bardanas para eles terem música, e o Sol brilhava para iluminar a floresta com muitas cores, e foram muito felizes; toda a família foi muito feliz; pedem mesmo ter a certeza de que nunca houve família mais feliz!
Hans Christian Andersen
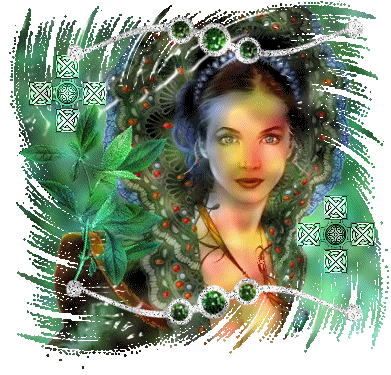


![[cavaleiro1.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFjf0VVUUQCpp5pQswtAPC96DPsDX1fB8t4rCtZGpC5qddwmuRrzkmrV6Lmnav3hcd77AND0zftft2tvHMjEOgQ0Ob2Uon8sNZW1cQymDOn215T-BBLI2WGJrmWYsys_Lw2Dx2IGO6EA/s1600/cavaleiro1.jpg)